Ao invés de viajar na fantasia da ficção científica e se concentrar no esgotamento dos recursos naturais pelo homem, o longa foca a solidão e o potencial das relações improváveis dentro de situações limítrofes
Nem bem as primeiras cenas do remake de “Mad Max” começam a pipocar na internet e já estreia nos cinemas nesta quinta-feira (7/8) “The Rover – a caçada” (The Rover, de David Michôd, Porchlight Films e outros, 2014) espécie de similar cabeça de aventura apocalíptica igualmente passada no interior da Austrália. Em um mundo devastado após o colapso da sociedade moderna, onde o governo, a ordem social e as grandes corporações foram para o brejo, cada um se vira como pode e tenta, a todo custo, obter aqueles bens básicos que costumavam ser desperdiçados pelo ralo: água, comida, gasolina e, quem sabe, até mesmo um pouco da boa vontade alheia. Mas, enquanto geralmente esse tipo de ficção costuma se deter em aventuras rocambolescas com muito movimento, repletas explosões e de hordas de fascínoras sem alma, esse exemplar do gênero abusa da narrativa lenta e vai naquela onda do cavaleiro solitário característica do western. O diretor David Michôd procura imprimir um tom mais realista à premissa do fim do mundo e foca no comportamento social ao pretender desvendar o porquê de seres humanos se tornarem verdadeiros diabos da Tasmânia diante das adversidades. Sim, há existencialismo na brutalidade e a filosofia de que a existência determina a essência é levada no filme ao pé da letra. Algo de deixar Sartre e Simone de Beauvoir trepidando de alegria ao conferir suas teses na telona.
Não que não haja violência ao longo da projeção. Naturalmente, os produtores esbanjaram no uso da glucose de milho, o ingrediente principal na composição do sangue cenográfico, e muita gente é despachada para o além na base de uma bala na testa. Tudo isso, claro, partindo da premissa de como a sociedade (ou o que sobrou dela) reagiria caso não existisse mais ordem e fosse um cada um por si, sem ninguém precisar responder civilmente pelos seus atos. Um Guy Pearce econômico na interpretação – em visual que mescla o estilo caubói taciturno com papai-garotão que circula por aí de camisa de flanela e bermudão de sarja – comparece como um protagonista caladão que move mundos e fundos pelas estradas do empoeirado outback australiano a fim de reaver o carro roubado por três assaltantes.
Não que isso fizesse alguma diferença. Afinal, a sociedade bateu as botas e ninguém está preocupado com Nissans ou Toyotas, mas como encher o bucho. Mas é somente na cena final que fica claro o real motivo de tanto apego ao veículo quando, na verdade, bastaria entrar em uma concessionária abandonada e sair por aí dirigindo. Sonho de consumo para qualquer um, se fossem os dias atuais.
Contracenando com ele, Robert Pattinson interpreta o irmão abobalhado de um dos marginais, deixado para trás em um incidente com uma milícia e resgatado pelo anti-herói com o objetivo de ser o passaporte para recuperar seu carro. Nem é preciso citar que o aspecto frágil do galã – aqui enfeiado pelo visagismo a ponto de os fãs de “Crepúsculo” saírem horrorizados – é usado pelo cineasta ao limite como forma de estabelecer um vínculo emocional entre os dois personagens principais. A ideia é essa: revelar como que, na solidão e na dureza de um ambiente inóspito, os vínculos afetivos podem surgir de onde menos se espera.
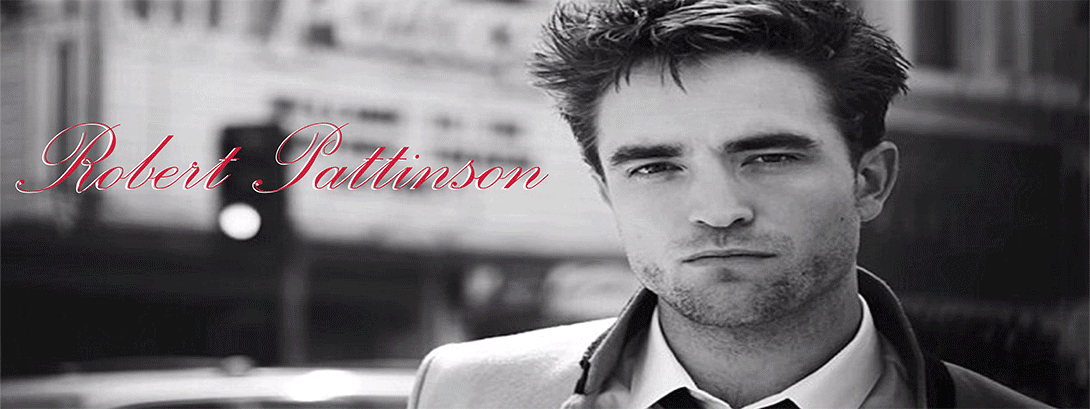


Nenhum comentário:
Postar um comentário